CANDIDO, Antônio. Literatura e Sociedade. Rio de Janeiro: Ouro sobre azul, 2006. pp. 13-49.
Crítica e Sociologia
1
O autor Antônio Cândido preza por uma análise sistemática acerca da contribuição das ciências sociais para com o estudo literário, não esquecendo de atribuir importância à crítica literária pura e simples. O que se deve buscar, segundo ele, é “(...) que se efetue a operação difícil de chegar a um ponto de vista objetivo, sem desfigurá-la de um lado nem de outro” (CANDIDO, página 13). Defende uma complementaridade entre as divergentes áreas, analisando o vínculo entre a obra e o ambiente, não deixando de lado a análise estética do relato literário. “O externo (no caso, o social) importa, não como causa, nem como significado, mas como elemento que desempenha um certo papel na constituição da estrutura, tornando-se assim, interno” (CANDIDO, página 14).
O que importa é uma abordagem que encare a obra literária como um conjunto de fatores sociais que atuem sobre a formação da mesma (além da influência que a mesma exerce no meio social a que pertence, depois de concluída e divulgada). O fator social não disponibiliza apenas as matérias, mas também atua na constituição do que há de essencial na obra enquanto obra de arte. Deve-se perceber a literatura como um todo indissolúvel, fruto de um tecido formado por características sociais distintas, porém complementares.
Apontar as dimensões sociais de um livro (referências a lugares, datas, manifestações de determinados grupos sociais presentes na estória, etc) é tarefa de rotina, não bastando assim para definir um caráter sociológico de estudo. Deve-se partir de uma análise das relações sociais, para aí sim compreendê-las e estudá-las em um nível sociológico mais profundo, levando-se em conta a estrutura formada no livro. Diz o autor: “Quando fazemos uma análise desse tipo, podemos dizer que levamos em conta o elemento social, não exteriormente, como referência que permite identificar, na matéria do livro, a expressão de uma certa época ou de uma sociedade determinada; nem como enquadramento, que permite situá-lo historicamente; mas como fator da própria construção artística, estudado no nível explicativo e não ilustrativo” (CANDIDO, páginas 16 e 17). Não é a literatura por ela mesma, mas pelo social. Assim, pode-se sair de uma análise sociológica periférica e sem fundamentos, não se limitando a uma referência à história sociologicamente orientada. Tudo faz parte de um “fermento orgânico” (CANDIDO, página 17), onde a diversidade se torna coesa e possibilita um estudo mais aprofundado e estruturado em bases históricas, sociológicas e críticas. Segundo esta ótica, o ângulo sociológico adquire uma real validade científica (inserida em um contexto social real). “Uma crítica que se queira integral deixará de ser unilateralmente sociológica, psicológica ou lingüística, para utilizar livremente os elementos capazes de conduzirem a uma interpretação coerente. Mas nada impede que cada crítico ressalte o elemento da sua preferência, desde que o utilize como componente da estruturação da obra” (CANDIDO, página 17). Tende-se assim a uma pesquisa mais concreta.
Antônio Cândido atenta também para um perigo comum, que seria o fato de muitos estudiosos atribuírem integridade e autonomia às obras que estudam além dos limites cabíveis, resultando assim em uma maior interiorização da obra (a obra por ela mesmo e nada mais), fazendo com que, por exemplo, fatores históricos entrassem e detrimento na pesquisa. Em suma, o autor carioca diz que “(...) convém evitar novos dogmatismos” (CANDIDO, página 18), e que não podemos “dispensar nem menosprezar disciplinas interdependentes como a sociologia da literatura e a história literária sociologicamente orientada, bem como toda a gama de estudos aplicados à investigação de aspectos sociais das obras” (CANDIDO, página 18).
2
O autor enumera seis modalidades de estudos do tipo sociológico no campo literário, oscilando entre a sociologia , a história e a crítica de conteúdo:
1) Relacionamento do conjunto de uma literatura (um período, um gênero) com as condições sociais. Esta abordagem metodológica tradicional seria oriunda do século XVIII. Teria, como virtude, mapear uma ordem geral, um arranjo. Como defeito, traria dificuldades em mostrar a ligação entre as condições sociais e as obras. “(...) Como resultado decepcionante, uma composição paralela, em que o estudioso enumera os fatores (...), e em seguida fala das obras segundo as suas intuições ou os seus preconceitos herdados, incapaz de vincular as duas ordens de realidade” (CANDIDO, página 19).
2) Verificar a medida em que as obras espelham ou representam a sociedade, descrevendo seus vários aspectos. Seria a modalidade mais comum, consistindo em estabelecer correlações entre os aspectos reais e os que aparecem nos livros.
3) Análise de cunho estritamente sociológico, consistindo no estudo da relação entre a obra e o público (isto é, o seu destino, a sua aceitação, a ação recíproca de ambos). Exploraria a função da literatura junto aos leitores, mediante a aceitação, ou não, da mesma.
4) Estudo da posição e função social do escritor, procurando relações entre sua posição e a natureza de sua produção literária, e ambas com a organização da sociedade. Nada mais é que a análise da situação e do papel destes intelectuais na formação da sociedade.
5) Investigação da função política das obras e dos autores (em geral, atenderia a intuitos ideológicos previamente determinados).
6) Investigação hipotética das origens, buscando uma essência particular (seja da literatura em geral, ou de determinados gêneros).
Cada tipo de abordagem decai sobre um ângulo específico. Segundo Antônio Cândido, acerca das escolhas metodológicas sociais a se trabalhar a literatura, “em todas nota-se o deslocamento da obra para os elementos sociais que formam a sua matéria, para as circunstâncias do meio que influíram na sua elaboração, ou para a sua função na sociedade” (CANDIDO, página 21). Não se nega o entrelaçamento de diversos fatores sociais nas obras literárias, mas, determinar se estes interferem diretamente nas características essenciais de determinada obra pode levar alguns estudiosos a um abismo difícil de se transpor.
O autor converge em opinião com o argumento de Adriana Facina ao dizer: “O primeiro passo (que apesar de óbvio dever ser assinalado) é ter consciência da relação arbitrária e deformante que o trabalho artístico estabelece com a realidade, mesmo quando pretende observá-la e transpô-la rigorosamente” (CANDIDO, página 22). O autor defende e justifica esse caráter distorcido da literatura ao afirmar que “esta liberdade, mesmo dentro da orientação documentária, é o quinhão da fantasia, que às vezes precisa modificar a ordem para torná-la mais expressiva de tal maneira que o sentimento da verdade se constitui no leitor graças a esta traição metódica. Tal paradoxo está no cerne do trabalho literário e garante a sua eficácia como representação do mundo. Achar, pois, que basta aferir a obra com a realidade exterior para entendê-la é correr o risco de uma perigosa simplificação causal” (CANDIDO, página 22).
3
O social passa por um processo de interiorização em que o autor o reconstrói, elaborando-o de uma maneira estética diferenciada (não deixando de ser subjetiva e arbitrária). Determinadas visões específicas são o que delineiam a construção estética de um livro. Ainda, a “a criação, não obstante singular e autônoma, decorre de uma certa visão do mundo, que é fenômeno coletivo na medida em que foi elaborada por uma classe social, segundo o seu ângulo ideológico próprio” (CANDIDO, página 23). Desta forma, a hipótese primordial do autor é que há a invocação do fator social como um meio de explicação e estruturação da obra e de seu teor de idéias, fornecendo-lhe elementos para determinar a sua validade e o seu efeito sobre as massas leitoras que os absorvem. Porém, isto não se simplifica à mera dicotomia entre fatores internos e externos. “(...) Os elementos de ordem social serão filtrados através de uma concepção estética e trazidos ao nível da fatura, para entender a singularidade e a autonomia da obra” (CANDIDO, página 24). A obra pura e simples não significa um todo que se explica a si mesma, como um universo fechado (a obra é orgânica sim, mas não totalmente isolada do mundo).
A literatura e a vida social
1
Nesta parte de seu ensaio, o autor relativiza a contribuição das ciências socias ao estudo literário. “Do século passado aos nossos dias, este gênero de estudos tem permanecido insatisfatório, ou ao menos incompleto, devido à falta de um sistema coerente de referência, isto é, um conjunto de formulações e conceitos que permitam limitar objetivamente o campo de análise e escapar, tanto quanto possível, ao arbítrio dos pontos de vista. Não espanta, pois, que a aplicação das ciências sociais ao estudo da arte tenha tido conseqüências freqüentemente duvidosas, propiciando relações difíceis no terreno do método. Com efeito, sociólogos, psicólogos e outros manifestam às vezes intuitos imperialistas, tendo havido momentos em que julgaram poder explicar apenas com os recursos das suas disciplinas a totalidade do fenômeno artístico. Assim, problemas que desafiavam gerações de filósofos e críticos pareceram de repente facilmente solúveis, graças a um simplismo que não raro levou ao descrédito as orientações sociológicas e psicológicas, como instrumentos de interpretação do fato literário” (CANDIDO, página 27).
O poeta e escritor transformam tudo que passa por eles, combinado a realidade que absorvem com a própria percepção, devolvendo assim ao mundo uma interpretação própria e subjetiva, longe de ser um mero espelho refletor. Assim, deve-se pensar a influência exercida pelo meio social sobre a obra de arte, assim como a influência que a própria obra exerce sobre o meio. A arte pode então, ser uma expressão da sociedade, não deixando de se considerar o teor de seu aspecto social, ou seja, o quanto ela está interessada nos problemas sociais. A partir do século XVIII, a literatura passa a ser também um produto social, já que expressa condições de cada civilização em que se forma. Chegou-se até a pensar até que medida a arte expressa a realidade, já que descreve modos de vida e interesses de determinadas classes, não satisfazendo assim uma interpretação plena da sociedade.
A análise do conteúdo social de uma obra segue mais como uma afirmação de princípios do que uma hipótese de investigação, já que um desenrolar negativo desta perspectiva de pesquisa sugere a uma condenação destas obras que não corresponderiam aos valores de suas respectivas ideologias.
No geral, a arte é social nos dois sentidos: tanto receptiva quanto expressiva (isto não ocorrendo de maneira tão ativa, muito menos ainda passiva). Como diz o autor: “(...) depende da ação de fatores do meio, que se exprimem na obra em graus diversos de sublimação; e produz sobre os indivíduos um efeito prático, modificando a sua conduta e concepção do mundo, ou reforçando neles o sentimento dos valores sociais” (CANDIDO, página 30). Um método de pesquisa mais apropriado investir-se-ia na análise das influências reais exercidas pelos fatores socioculturais. Vários aspectos podem ser considerados neste processo, como por exemplo: a posição social do artista, a configuração dos grupos receptores, a forma e conteúdo da obra, a fatura da mesma e sua transmissão, entre outros. Antônio Candido aponta para “quatro momentos da produção, pois: a) o artista, sob o impulso de uma necessidade interior, orienta-se segundo os padrões da sua época, b)escolhe certos temas, c) usa certas formas e d) a síntese resultante age sobre o meio” (CANDIDO, página 31).
A arte pressupõe algo mais amplo que as vivências do artista, apesar dele se equipar com um arsenal oriundo da própria civilização para tematizar e formar sua obra, moldando-a sempre a um público alvo. O autor faz uma distinção categórica entre arte de agregação e arte de segregação. “A primeira se inspira principalmente na experiência coletiva e visa os meios comunicativos acessíveis. Procura, neste sentido, incorporar-se a um sistema simbólico vigente, utilizando o que já está estabelecido como forma de expressão de determinada sociedade. A segunda se preocupa em renovar o sistema simbólico, criar novos recursos expressivos e, para isto, dirige-se a um número ao menos inicialmente reduzido de receptores, que se destacam, enquanto tais, da sociedade” (CANDIDO, página 33).
2
Tomando o autor, a obra e o público como os três principais elementos que fundamentam e possibilitam a comunicação artística, Antônio Cândido analisa como a sociedade define a posição e o papel do artista, como a obra depende de recursos técnicos para expor os valores propostos e, de que maneira se configuram os públicos. O link entre sociedade e arte não ocorre de maneira tão simples, trata-se sim de um viés de mão dupla. “A atividade do artista estimula a diferenciação de grupos; a criação de obras modifica os recursos de comunicação expressiva; as obras delimitam e organizam o público. Vendo os problemas sob esta dupla perspectiva, percebe-se o movimento dialético que engloba a arte e a sociedade num vasto sistema solidário de influências recíprocas” (CANDIDO, página 34).
1) A posição do artista
Averigua-se de que modo a posição social atribui um papel específico ao criador de arte. Isto envolve não apenas o artista individualmente, mas a formação de grupos de artistas. Há tempos que o caráter da criação rumava para uma imagem coletiva, concebendo ao povo, no conjunto, o verdadeiro criador da arte. “Hoje, está superada esta noção de cunho acentuadamente romântico, e sabemos que a obra exige necessariamente a presença do artista criador. O que chamamos arte coletiva é a arte criada pelo indivíduo a tal ponto identificado às aspirações e valores do seu tempo, que parece dissolver-se nele” (CANDIDO, página 34-35). Forças sociais condicionam a produção do artista, isto é fato, e “os elementos individuais adquirem significado social na medida em que as pessoas correspondem a necessidades coletivas. As relações entre o artista e o grupo resumem-se a um esquema simples: “em primeiro lugar, há necessidade de um agente individual que tome a si a tarefa de criar ou apresentar a obra; em segundo lugar, ele é ou não reconhecido como criador ou intérprete pela sociedade, e o destino da obra está ligada a esta circunstância; em terceiro lugar, ele utiliza a obra, assim marcada pela sociedade, como veículo de suas aspirações individuais mais profundas” (CANDIDO, página 35). A obra nasce da confluência da iniciativa individual com as condições sociais, o que levanta a questão de quais são os limites da autonomia criadora do artista, repensando assim sua função em meio a sociedade.
A arte pressupõe um indivíduo que assuma a iniciativa da obra. “Em todo caso, a existência de artista realmente profissional, que vive da sua arte, dedicando-se apenas a ela, não é freqüente entre os primitivos e constitui, via da regra, desenvolvimento mais recente. (...) Nas sociedades modernas a autonomia da arte permite atribuir a qualidade de artista mesmo a quem a pratique ao lado de outras atividades” (CANDIDO, página 38). Uma vez reconhecidos como tais, os artistas podem vincular-se, formando grupos determinados pela técnica. “Esta é, em grau maior ou menor, pressuposto de toda arte, envolvendo uma série e fórmulas e modos de fazer que, uma vez estabelecidos, devem ser conservados e transmitidos” (CANDIDO, página 39). Tais grupos tendem a diferenciar-se funcionalmente conforme o tipo de hierarquia social predominante em sua sociedade.
2) A configuração da obra
Uma obra só é realizada quando é configurada pelo artista e pelas condições sociais que determinam a sua posição. Valores sociais, ideologias e sistemas de comunicação transmudam-se na obra através do impulso de seu criador. “Os valores e ideologias contribuem principalmente para o conteúdo, enquanto as modalidades de comunicação influem mais na forma” (CANDIDO, página 40). Algo se transforma em elemento usufruído pela arte quando representa para um determinado grupo social algo singularmente prezado, o que garantiria assim certo impacto emocional. Um exemplo vem da fase bolchevista que, quando em ascendência, criou um tipo de romance coletivista, onde os protagonistas são substituídos pelo esforço anônimo das massas. Além dos valores, as técnicas de comunicação de que a sociedade dispõe influem na obra, em sua forma, e nas suas possibilidades de atuação no meio. A partir do momento em que a escrita triunfa como meio de comunicação, o panorama artístico se modifica drasticamente. “A poesia pura do nosso tempo esqueceu o auditor e visa principalmente a um leitor atento e reflexivo, capaz de viver no silêncio e na meditação o sentido do seu canto mudo” (CANDIDO, página 43).
Além disso, deve-se destacar a influência decisiva do jornal sobre a literatura, criando gêneros novos (crônicas) ou modificando outros já existentes (como o romance, por exemplo).
3) O público
Considerado pelo autor Antônio Candido como o alvo receptor da arte. Em sociedades primitivas era menos nítida a separação entre o artista e seu público. “O pequeno número de componentes da comunidade e o entrosamento íntimo das manifestações artísticas com os demais aspectos da vida social dão lugar seja a uma participação de todos na execução de um canto ou dança, seja à intervenção dum número maior de artistas, seja a uma tal conformidade do artista aos padrões e expectativas, que mal chega a se distinguir” (CANDIDO, página 44). Com o desenvolvimento das sociedades, artistas se distanciam de seu público, formando assim categorias diferentes, mas não menos conectadas quanto antes (só então pode-se falar em um público diferenciado, no sentido moderno). O artista direciona sua produção a um público, ao qual ele não conhece, mas que imagina, a uma “massa abstrata, ou virtual” (CANDIDO, página 45). Tal grupo exerce uma influência enorme sobre a produção que se vai originar por via do artista. Um exemplo são os autores que se ajustam às normas do romance comercial, tamanhos são seus desejos por fama e bens materiais (influência da indústria literária).
A técnica da escrita, também, fez com que um novo tipo de público se formasse, possuindo características próprias. Abre-se uma era onde predominam os públicos indiretos, de contatos secundários. “Mesmo quando pensamos ser nós mesmos, somos público, pertencemos a uma massa cujas reações obedecem a condicionantes do momento e do meio” (CANDIDO, página 46). A necessidade, insuspeitada por muitos, de aderir ao que nos parece distintivo de um grupo, seja ele majoritário ou minoritário, só acaba por reforçar esta nossa reação que se fixa no reconhecimento de um coletivo.
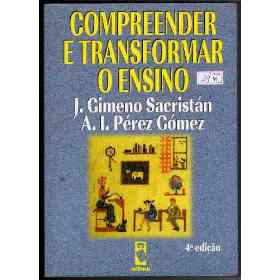 Sem compreender o que se faz, a prática pedagógica é uma reprodução de hábitos e pressupostos dados, ou respostas que os professores dão a demandas ou ordens externas. Conhecer a realidade herdada, discutir os pressupostos de qualquer proposta e suas possíveis conseqüências é uma condição da prática docente ética e profissionalmente responsável.
Sem compreender o que se faz, a prática pedagógica é uma reprodução de hábitos e pressupostos dados, ou respostas que os professores dão a demandas ou ordens externas. Conhecer a realidade herdada, discutir os pressupostos de qualquer proposta e suas possíveis conseqüências é uma condição da prática docente ética e profissionalmente responsável.